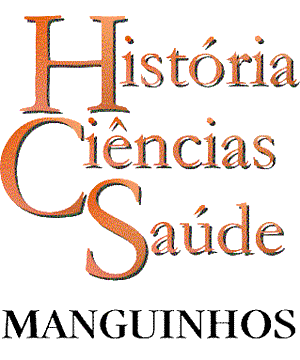Resumo
Este estudo se insere no campo da história ambiental e tem o objetivo de compreender o cenário de criação, entre 1958 e 1966, da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, importante organização não governamental ambientalista brasileira, com sede no Rio de Janeiro e atuação local, nacional e internacional. Para isso, utiliza fontes documentais primárias e pesquisa bibliográfica relacionada. As conclusões demonstraram a importância da existência de organizações não governamentais mais antigas que a fundação e a influência de conservacionistas sobre sua criação e sua atuação inicial.
História ambiental; União Internacional para Conservação da Natureza; Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza; Jerônimo Coimbra Bueno (1910-1996; Victor Abdennur Farah (1915-1967
Abstract
This study within the field of environmental history explores the scenario amid which the Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (Brazilian Foundation for Nature Conservation) was founded between 1958 and 1966; this important Brazilian non-governmental organization headquartered in Rio de Janeiro worked at the local, national, and international levels. Primary documentary sources were utilized, along with research of the related literature. The conclusions demonstrate the importance of non-governmental organizations predating this foundation, and the influence of conservationists on its establishment and current work.
Environmental history; International Union for Conservation of Nature; Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza; Jerônimo Coimbra Bueno (1910-1996; Victor Abdennur Farah (1915-1967
Este artigo se insere no campo da história ambiental e tem como tema a criação da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN), com sede no Rio de Janeiro (RJ). Ela teve influência local, nacional e internacional, principalmente nas décadas de 1960 a 1980, em assuntos relacionados com a conservação da natureza. O texto tem como objetivo compreender o contexto de criação da FBCN. Pretende também analisar a relevância de alguns de seus membros fundadores, com destaque para Jerônimo Coimbra Bueno (1910-1996) e Victor Abdennur Farah, e a sua relação com as esferas política e de conservação da natureza brasileira entre 1958 e 1966. Coimbra Bueno e Farah foram conservacionistas responsáveis pelo incentivo à criação de 11 parques nacionais brasileiros na década de 1960, feito mais importante na emergência da FBCN. O período 1958-1966 marca a fase inicial da fundação, que em seguida começou a ter uma atuação mais estruturada, com membros bem definidos e a publicação de boletins informativos anuais sobre conservação da natureza.
Entre 1950 e 1960, o planeta já havia passado pela crise financeira de 1929, fora abalado por duas guerras mundiais e se encontrava no contexto da Guerra Fria. A partir de 1945, o consumo global de combustíveis fósseis e outras matérias-primas aumentou substancialmente, para sustentar um ritmo acelerado de crescimento econômico e social. Planos de investimento em projetos de infraestrutura e desenvolvimento foram um fenômeno mundial. No Brasil, esse fenômeno ficou caracterizado em 1956 pelo “Plano de Metas”, lançado pelo governo do presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976). O plano se propôs a fazer o produto interno bruto brasileiro crescer cinquenta anos em cinco, o que alarmou um grupo de cidadãos preocupados com o que isso poderia significar em termos de devastação ambiental (McNeill, Engelke, 2016; Urban, 2011URBAN, Teresa. Saudade do Matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil. Curitiba: Editora UFPR, 2011., publicado originalmente em 1998; Worster, 2016WORSTER, Donald. Shrinking the Earth: the rise and decline of American abundance. London: Oxford University Press, 2016.).
Esse grupo, posteriormente autodenominado conservacionistas, criou a FBCN, em 1958. Apesar de ter feito isso em um contexto fortemente desenvolvimentista, alguns fatores o ajudaram a alcançar um relativo sucesso em suas ações. É preciso considerar que havia uma circunstância favorável no país – existiam outras associações e instituições de proteção da natureza. Isso facilitou a união e a organização dos membros da FBCN, tanto em termos administrativos quanto em termos do conhecimento científico adquirido por meio de intercâmbio com outras organizações e outros países. Além disso, muitos membros da FBCN ocupavam cargos na administração pública ou na política, o que facilitou a aproximação e o diálogo com os responsáveis pela tomada de decisões. Alguns resultados da influência dos membros da FBCN na esfera política se materializaram durante os governos de Kubitschek e Jânio Quadros (1917-1992) (McCormick, 1992MCCORMICK, John. Rumo ao paraíso: a história do movimento ambientalista. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1992.; Urban, 2001URBAN, Teresa. Missão (quase) impossível: aventuras e desventuras do movimento ambientalista no Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2001., 2011URBAN, Teresa. Saudade do Matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil. Curitiba: Editora UFPR, 2011.).
Para compreender o momento de criação da FBCN, as suas principais ações, as influências que sofreu e conhecer os seus fundadores, usamos fontes primárias, entre as quais artigos do jornal Correio da Manhã, importante diário da imprensa do Rio de Janeiro, e o Estatuto da FBCN, escrito em 1960 e publicado no Diário do Congresso Nacional, que trata da organização da fundação, dos seus objetivos e do símbolo que ela adotou. Boa parte das informações do estatuto foi reiterada no Boletim da FBCN de 1966, o primeiro de 24 volumes anuais publicados pela FBCN até 1989. Os boletins da FBCN tratavam da conservação da natureza e das práticas relacionadas a ela no Brasil e no mundo. Urban (2011)URBAN, Teresa. Saudade do Matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil. Curitiba: Editora UFPR, 2011. também reúne material que pode ser trabalhado como fonte primária, pois ela transcreveu entrevistas feitas com alguns membros proeminentes da FBCN.
Consultamos também fontes secundárias para dar à pesquisa uma contextualização mais ampla. McNeill e Engelke (2016)MCNEILL, John Robert; ENGELKE, Peter. The great acceleration: an environmental history of the Anthropocene since 1945. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2016. fazem uma interpretação global do período aberto em 1945, momento em que se intensificou a atuação humana sobre a natureza nas formas de crescimento econômico acelerado e de consumo maciço de recursos naturais. Sena (2018)SENA, Nathália. Conservação da natureza em interface com a atuação da UICN (1947-2016). Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável) - Universidade de Brasília, Brasília, 2018. aprofunda a discussão sobre a criação da União Internacional para Proteção da Natureza (UIPN) e a sua posterior mudança de nome para União Internacional para Conservação da Natureza (UICN). Na esfera nacional, Dean (1996)DEAN, Warren. A ferro e fogo: história e devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. e Urban (2001URBAN, Teresa. Missão (quase) impossível: aventuras e desventuras do movimento ambientalista no Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2001., 2011URBAN, Teresa. Saudade do Matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil. Curitiba: Editora UFPR, 2011.) tratam da devastação ambiental pela qual o Brasil passou desde os primórdios da ocupação humana de seu território e como isso acarretou a longo prazo propostas de proteção e conservação da natureza. Franco e Drummond (2009a) trabalham com a relação entre proteção da natureza e a construção da identidade nacional durante as décadas de 1920 a 1940 no Brasil. Duarte (2010)DUARTE, Regina Horta. A biologia militante: o Museu Nacional, especialização científica, divulgação do conhecimento e práticas políticas no Brasil, 1926-1945. Belo Horizonte: UFMG, 2010. trata da proteção à natureza nesse mesmo período, o que influenciou diretamente a geração de conservacionistas reunidos na FBCN. Hochstetler e Keck (2007)HOCHSTETLER, Kathryn; KECK, Margaret E. Greening Brazil: environmental activism in state and society. Durham: Duke University Press, 2007. e Pádua (2012PÁDUA, José Augusto. Environmentalism in Brazil: a historical perspective. In: McNeill, John Robert; Mauldin, Erin Stewart (ed.). A companion to global environmental history. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. p.455-473., 2018PÁDUA, José Augusto. Civil society and environmentalism in Brazil: The twentieth century's great acceleration. In: Rajan, Ravi; Sedrez, Lise (ed.). The great convergence: environmental histories of Brics. New Delhi: Oxford University Press, 2018. p.113-134.) oferecem uma visão panorâmica da história do ambientalismo no Brasil, especialmente durante a “grande aceleração” do período pós-Segunda Guerra Mundial identificada por McNeill e Engelke (2016)MCNEILL, John Robert; ENGELKE, Peter. The great acceleration: an environmental history of the Anthropocene since 1945. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2016..
Outros textos focalizam mais diretamente a atuação da FBCN e/ou dos seus membros. Borges (1995)BORGES, Cristina Xavier. Por trás do verde: discurso e prática de uma ONG: o caso da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. Dissertação (Mestrado em Extensão Rural) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 1995. foi pioneira ao escrever a sua dissertação de mestrado sobre a FBCN, delineando sua estrutura e entrevistando importantes membros, como Harold Edgard Strang. Franco e Drummond (2009b, 2013) tratam diretamente do papel desempenhado pela FBCN na conservação da natureza, de 1958 a 1992. Gonçalves (2021)GONÇALVES, Alyne dos Santos. A militância ambiental de Augusto Ruschi: práticas científicas e estratégias políticas para a conservação da natureza no Brasil (1937-1986). Santa Teresa: INMA, Comunicação Impressa, 2021. e Maia e Franco (2021)MAIA, Juliana Capra; FRANCO, José Luiz. O homem, a mata e o beija-flor: Augusto Ruschi e a conservação da natureza no Brasil. Santa Teresa: INMA, Comunicação Impressa, 2021. estudam o papel do agrônomo Augusto Ruschi (1915-1986), pesquisador do Museu Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ) e fundador e diretor do Museu de Biologia Professor Mello Leitão (MBML), na história da conservação. Lopes e Franco (2020)LOPES, Marcia Helena; FRANCO, José Luiz. O Parque Nacional do Araguaia: dilemas entre o desenvolvimento regional e a conservação da natureza. Revista de História Regional, v.25, n.2, p.357-382, 2020. estudam a criação do Parque Nacional do Araguaia e ressaltam a importância do senador Jerônimo Coimbra Bueno para a sua efetivação. Ribeiro (2020)RIBEIRO, Luanna de Souza. História do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros: da sua criação à sua [re]ampliação em 2017. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável) - Universidade de Brasília, Brasília, 2020. mostra a importância de Coimbra Bueno para a criação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Silva (2017)SILVA, Filipe Oliveira da. O Conselho Florestal Federal: um parecer de sua configuração institucional (1934-1967). Halac - Historia Ambiental, Latinoamericana y Caribeña, v.7, n.2, p.101-129, 2017. Disponível em: http://halacsolcha.org/index.php/halac. Acesso em: 30 out. 2021.
http://halacsolcha.org/index.php/halac...
estuda a emergência do Conselho Florestal Federal (CFF) e suas presidências, especialmente a do engenheiro agrônomo Victor Abdennur Farah, primeiro diretor-executivo da FBCN. Por fim, Prado (2011)PRADO, Daniel Porciuncula. A figueira e o machado: uma história das raízes do ambientalismo no Sul do Brasil e a crítica ambiental de Henrique Roessler. Rio Grande: Furg, 2011. e Pereira (2013)PEREIRA, Elenita Malta. Roessler: O homem que amava a natureza. São Leopoldo: Oikos, 2013. estudam Henrique Luís Roessler (1896-1963), que articulou, no Rio Grande do Sul, um movimento de proteção da natureza que acabou estabelecendo vinculações com a FBCN. Os autores citados estão entre os que trabalharam mais diretamente com temas ligados à FBCN, a sua história, a sua atuação ou a seus membros, embora não tenham focalizado especificamente sua criação ou mesmo fundação em si. Geralmente, a FBCN aparece nas obras como uma contribuinte da conservação da natureza. Informações sobre onde e quando foi criada e sobre os seus objetivos principais se repetem e não se estendem muito além disso. A fase anterior e o momento de criação da FBCN são as lacunas que o presente estudo pretende preencher.
Apontamos também algumas imprecisões publicadas sobre a FBCN. Hochstetler e Keck (2007)HOCHSTETLER, Kathryn; KECK, Margaret E. Greening Brazil: environmental activism in state and society. Durham: Duke University Press, 2007. erram ao informar que 12 membros criaram a fundação, quando o Correio da Manhã e o Boletim da FBCN de 1966 mostram que houve 14 fundadores. Já Diegues (2008)DIEGUES, Antonio Carlos. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: Editora Hucitec Nupaub, 2008. classifica a FBCN como preservacionista, ignorando que o caráter da fundação foi misto de conservacionismo e de preservacionismo. De fato, esse embate entre preservacionismo e conservacionismo nem chegou a ocorrer no Brasil. Nos EUA, a prática da proteção mais estrita da natureza, de viés romântico, que defendia a manutenção de áreas sem a presença humana e que atribuía à natureza um valor intrínseco, transcendental, ficou conhecida como preservacionismo, tendo como o seu principal expoente o escritor escocês-norte-americano John Muir (1838-1914). Muir enfrentava o conservacionismo, defendido pelo engenheiro florestal norte-americano Gifford Pinchot (1865-1946). Pinchot defendia o uso sábio dos recursos naturais e apoiava atividades produtivas em áreas protegidas.
Para melhor compreender essa discussão entre conservação e preservação, Maia e Franco (2021)MAIA, Juliana Capra; FRANCO, José Luiz. O homem, a mata e o beija-flor: Augusto Ruschi e a conservação da natureza no Brasil. Santa Teresa: INMA, Comunicação Impressa, 2021. retomaram a influência do naturalista Alexander von Humboldt (1769-1859) na ressignificação da natureza no pensamento ocidental, o que moldou o pensamento ecológico e a biogeografia. Humboldt resgatou a contemplação romântica da wilderness e influenciou diversos pensadores a partir de uma compreensão mais holística da natureza, entre eles, Henry David Thoreau (1817-1862), John Muir e mesmo Gifford Pinchot. Assim, apesar da cisão entre Muir e Pinchot, havia uma influência do pensamento romântico em ambos, bem como no engenheiro florestal norte-americano Aldo Leopold (1887-1948). Leopold muda sua concepção de trabalho de manejo da caça para manejo da wilderness a partir do momento em que ampliou seu entendimento sobre ecologia, passando a “pensar como uma montanha”, ou seja, a compreender o todo, assim como Humboldt. Enquanto Thoreau, Muir e Leopold podem ser vistos como ligados a um conservacionismo de viés preservacionista (ou simplesmente preservacionismo), que atribui um valor intrínseco às espécies, com caráter biocêntrico ou mesmo ecocênctrico; Pinchot era um conservacionista mais preocupado com o uso sábio dos recursos naturais, sendo classificado com um viés antropocêntrico. Essas são características mistas na FBCN, o que não permite defini-la como apenas preservacionista ou conservacionista.
O artigo está estruturado em três tópicos, além desta introdução e de uma conclusão. No primeiro analisamos as tentativas iniciais de organização da proteção e conservação da natureza no Brasil. O segundo focaliza a criação da FBCN, seus fundadores e os trâmites e acordos necessários para a sua concretização. O terceiro tópico se concentra na atuação de conservacionistas pertencentes aos quadros da FBCN, mais especificamente Jerônimo Coimbra Bueno e Victor Abdennur Farah. Na conclusão, destacamos a importância da existência de organizações não governamentais (ONGs) anteriores à FBCN e o papel desempenhado por seus membros dotados de maior capacidade de influenciar as decisões na esfera política.
As primeiras sociedades e instituições de proteção e conservação da natureza no Brasil
Nesta seção registramos alguns fatos ocorridos nos anos 1960 e em décadas anteriores. Começamos pela degradação ambiental que se acelerou nos contextos internacional e nacional a partir de 1945. A discussão relacionada à destruição da natureza levou a medidas, a leis, à criação de instituições de proteção da natureza e ao ativismo de pessoas ligadas à causa. Buscamos deixar claro esse contexto para destacar que a criação da FBCN foi facilitada pela existência anterior de ações de proteção e conservação da natureza.
O cenário mundial em que a FBCN emergiu está inserido em um período de intensificação do uso de combustíveis fósseis e outros recursos naturais e de crescimento populacional exponencial, conhecido como “a grande aceleração”. Essa fase começou entre 1945-1950, após duas guerras mundiais e uma longa recessão econômica advinda da Crise de 1929, prosseguindo de maneira quase insustentável até os dias atuais. A ideia de conservação se associou com a de desenvolvimento, possibilitando a correlação entre criação de parques nacionais, desenvolvimento econômico e identidade nacional. Esse foi um importante aspecto do início da grande aceleração que ajudou conservacionistas a convencer políticos e instituições governamentais a criar áreas protegidas no Brasil. Outra questão a ser destacada é a Guerra Fria (1947-1991), período de tensão diplomática e geopolítica entre dois grandes blocos de nações. Esse cenário impulsionava a corrida pelo desenvolvimento e pelo crescimento econômico como sinônimos de modernidade e civilidade, em detrimento do meio ambiente (De Bont, Schleper, Schouwenburg, 2017; Franco, Drummond, 2009b; Mcneill, Engelke, 2016; Worster, 2016WORSTER, Donald. Shrinking the Earth: the rise and decline of American abundance. London: Oxford University Press, 2016.).
A consequente devastação ambiental preocupou pessoas simpáticas à proteção da natureza de maneira global. O moderno ambientalismo emergiu, portanto, na contramão do desenvolvimentismo. No início do século XX houve tentativas de criar um organismo internacional de proteção da natureza, o que só ocorreu em 1948, com a instalação da UIPN na Suíça, um híbrido de órgãos governamentais e não governamentais. Posteriormente, em 1956, ela se transformou na UICN. Para apoio financeiro da UICN, surgiu, em 1961, a ONG Fundo Mundial para a Natureza, que depois viria a financiar a FBCN. Após sua criação e algumas assembleias, os membros da UICN começaram a buscar definições mais precisas sobre parques nacionais e outros tipos de áreas protegidas e passaram a realizar conferências internacionais a cada dez anos (McNeill, Engelke, 2016; McCormick, 1992MCCORMICK, John. Rumo ao paraíso: a história do movimento ambientalista. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1992.; Sena, 2018SENA, Nathália. Conservação da natureza em interface com a atuação da UICN (1947-2016). Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável) - Universidade de Brasília, Brasília, 2018.; Urban, 2011URBAN, Teresa. Saudade do Matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil. Curitiba: Editora UFPR, 2011.).
Sem seguir uma ordem rígida de criação de sociedades, instituições e legislações ambientais, esse tipo de movimento voltado para a conservação do meio ambiente se manifestou em diversos países que estavam influenciados por fortes discursos de crescimento econômico e modernização; entre eles, o Brasil. A preocupação com a degradação ambiental no Brasil se manifestava desde o final do século XVIII, com os problemas advindos do desmatamento e da degradação do solo. No século XIX, a devastação ambiental era vista no Brasil como o preço do atraso, devido a práticas sociais e tecnológicas rudimentares advindas do colonialismo. Diversos estudiosos, entre eles, o naturalista José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), amigo e interlocutor de Alexander von Humboldt, discutiam temas como extinção de espécies na Amazônia, seca no Nordeste, os riscos da monocultura, entre outros (Franco, Drummond, 2009a, 2012; Maia, Franco, 2021FRANCO, José Luiz. A Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN): história das áreas protegidas e das espécies ameaçadas de extinção no Brasil. In: Dichdji, Ayelen; Pereira, Elenita Malta (org.). Protección de la naturaleza: narrativas y discursos, v.1. Buenos Aires: Teseo, 2021. p.169-205.; Medeiros, 2006MEDEIROS, Rodrigo. Evolução das tipologias e categorias de áreas protegidas no Brasil. Ambiente & Sociedade, v.9, n.1, p.41-64, 2006.; Pádua, 2012PÁDUA, José Augusto. Environmentalism in Brazil: a historical perspective. In: McNeill, John Robert; Mauldin, Erin Stewart (ed.). A companion to global environmental history. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. p.455-473., 2018PÁDUA, José Augusto. Civil society and environmentalism in Brazil: The twentieth century's great acceleration. In: Rajan, Ravi; Sedrez, Lise (ed.). The great convergence: environmental histories of Brics. New Delhi: Oxford University Press, 2018. p.113-134.; Worster, 2016WORSTER, Donald. Shrinking the Earth: the rise and decline of American abundance. London: Oxford University Press, 2016.).
Essa preocupação ambiental se tornou mais evidente durante os anos 1920-1940, quando um grupo de intelectuais alcançou razoável inserção nos meios de decisão política e a capacidade de influenciar o governo do presidente Getúlio Vargas. Esse grupo relacionava a proteção da natureza com ideias de construção da identidade nacional brasileira. Uma consequência de suas manifestações foi a edição, em 1934, de uma série de decretos de caráter ambiental – Código de Caça e Pesca, Código Florestal e Código de Águas – e medidas de proteção aos animais. Pouco depois foram criados os primeiros parques nacionais brasileiros – Itatiaia (1937), Serra dos Órgãos (1939) e Iguaçu (1939). A Constituição de 1934 encarregou os governos central e estaduais de proteger as “belezas naturais” e “monumentos de valor histórico ou artístico”. Sugiram nos anos 1930 diversas associações e instituições de proteção da natureza, dentro e fora da esfera governamental (Franco, Drummond, 2009a, 2012; Medeiros, 2006MEDEIROS, Rodrigo. Evolução das tipologias e categorias de áreas protegidas no Brasil. Ambiente & Sociedade, v.9, n.1, p.41-64, 2006.; Pádua, 2018PÁDUA, José Augusto. Civil society and environmentalism in Brazil: The twentieth century's great acceleration. In: Rajan, Ravi; Sedrez, Lise (ed.). The great convergence: environmental histories of Brics. New Delhi: Oxford University Press, 2018. p.113-134.).
Uma das primeiras instituições da administração pública brasileira direcionada à proteção da natureza foi criada em 1921 e regulamentada em 1925 – o Serviço Florestal Federal, vinculado ao Ministério da Agricultura. Essa instituição só teve atuação expressiva na década de 1930, com a criação dos primeiros parques nacionais. No ano seguinte, fora da esfera governamental, nasceu a Sociedade dos Amigos das Árvores, iniciativa de Alberto José Sampaio (1881-1946) e Leôncio Correia (1865-1950). Correia foi o fundador do jornal Correio da Manhã, no qual ele e outros exerceram importante papel de divulgação das ideias de proteção da natureza. A sociedade reunia intelectuais, jornalistas e políticos preocupados com a devastação ambiental acelerada. Foi ela que convocou, em 1934, a Primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza, realizada no Rio de Janeiro. A conferência refletiu o tipo de pensamento que se tornaria característico das organizações da sociedade civil e instituições públicas voltadas para a proteção da natureza no Brasil. Os temas de sua agenda foram a defesa da fauna e da flora e de sítios de monumentos naturais e a proteção e o melhor uso dos recursos naturais no país. O encontro preparou o terreno para a elaboração do Código Florestal de 1934 e abriu caminho para a criação dos primeiros parques nacionais brasileiros (Franco, Drummond, 2009a; Medeiros, 2006MEDEIROS, Rodrigo. Evolução das tipologias e categorias de áreas protegidas no Brasil. Ambiente & Sociedade, v.9, n.1, p.41-64, 2006.; Pádua, 2012PÁDUA, José Augusto. Environmentalism in Brazil: a historical perspective. In: McNeill, John Robert; Mauldin, Erin Stewart (ed.). A companion to global environmental history. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. p.455-473.; Silva, 2017SILVA, Filipe Oliveira da. O Conselho Florestal Federal: um parecer de sua configuração institucional (1934-1967). Halac - Historia Ambiental, Latinoamericana y Caribeña, v.7, n.2, p.101-129, 2017. Disponível em: http://halacsolcha.org/index.php/halac. Acesso em: 30 out. 2021.
http://halacsolcha.org/index.php/halac...
; Urban, 2001URBAN, Teresa. Missão (quase) impossível: aventuras e desventuras do movimento ambientalista no Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2001., 2011URBAN, Teresa. Saudade do Matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil. Curitiba: Editora UFPR, 2011.).
Ainda fora da esfera governamental, foi criada em 1932, no Rio de Janeiro, a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, que pretendia contribuir para as discussões legislativas que ocorreriam na Assembleia Nacional Constituinte de 1934. Entre os seus fundadores estavam o botânico Alberto José Sampaio, diretor do MNRJ, e Armando Magalhães Corrêa (1889-1944), escultor, desenhista, professor e escritor. A sociedade passou a divulgar o pensamento de Alberto Torres (1865-1917), advogado, político e escritor atuante no antigo estado do Rio de Janeiro. Torres criticava duramente a destruição dos recursos naturais em prol apenas das expansões territorial e econômica. Por isso Torres propunha uma revisão constitucional que incluísse um artigo defendendo o solo e as riquezas naturais do país, a distribuição de terras a pequenos proprietários e sugeria que todas essas ações fossem feitas por um Estado intervencionista forte. A sociedade atuou até 1945 (Franco, Drummond, 2009a; Urban, 2001URBAN, Teresa. Missão (quase) impossível: aventuras e desventuras do movimento ambientalista no Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2001., 2011URBAN, Teresa. Saudade do Matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil. Curitiba: Editora UFPR, 2011.; Worster, 2016WORSTER, Donald. Shrinking the Earth: the rise and decline of American abundance. London: Oxford University Press, 2016.).
Antes das sociedades mencionadas houve outros grupos cívicos organizados em torno da questão da proteção à natureza. Eles tinham atuações mais específicas, visto que uma crítica ambiental mais ampla surge principalmente a partir dos anos 1950. Entretanto, vale destacar o Centro Excursionista Brasileiro, criado em 1919, no Rio de Janeiro, cujos guias eram credenciados como guardas-florestais; a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, criada em 1922, que contava com a bióloga Bertha Lutz (1894-1976) como uma de suas líderes; e a Sociedade dos Amigos do Museu Nacional, criada em 1937, constituída por funcionários do MNRJ. É importante mencionar que as mulheres foram pioneiras nas denúncias do uso de plumas de pássaros como adereços na fabricação de roupas e chapéus na Inglaterra. No Brasil, destaca-se Magda Renner (1926-2016), residente na região Sul, que aderiu ao ambientalismo após assistir a uma palestra do agrônomo José Lutzenberger (1926-2002), o qual escreveu artigos para os boletins da FBCN a partir da década de 1970 (Dean, 1996DEAN, Warren. A ferro e fogo: história e devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.; Franco, Drummond, 2009a, 2012; McCormick, 1992MCCORMICK, John. Rumo ao paraíso: a história do movimento ambientalista. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1992.; Urban, 2001URBAN, Teresa. Missão (quase) impossível: aventuras e desventuras do movimento ambientalista no Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2001., 2011URBAN, Teresa. Saudade do Matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil. Curitiba: Editora UFPR, 2011.).
Em 1939, o botânico Frederico Carlos Hoehne (1882-1959) fundou a Sociedade de Amigos da Flora Brasílica, baseada em São Paulo. Ela atuava em conjunto com o Instituto de Botânica do estado, promovendo publicações, organizando palestras e influenciando a opinião pública a favor do reflorestamento e das reservas biológicas (Dean, 1996DEAN, Warren. A ferro e fogo: história e devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.; Franco, Drummond, 2009a, 2012; Urban, 2001URBAN, Teresa. Missão (quase) impossível: aventuras e desventuras do movimento ambientalista no Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2001., 2011URBAN, Teresa. Saudade do Matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil. Curitiba: Editora UFPR, 2011.). No final da década de 1930 e início da década de 1940, essas iniciativas, mesmo que locais, deram experiência e capacidade de organização aos intelectuais protetores da natureza.
O ambientalismo brasileiro surgiu da união de influências externas combinadas com conhecimentos internos, tendo características ocidentais bem fortes atuando em conjunto com atuações locais, como as já citadas. Apesar de a participação de países em desenvolvimento em conferências internacionais sobre conservação da natureza ter ganhado relevância a partir de 1970, entre as américas foi celebrada em 1940, em Washington, a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América. Ela contava com a participação dos seguintes governos, parte da União Pan-Americana: Bolívia, Cuba, El Salvador, Nicarágua, Peru, República Dominicana, EUA, Venezuela e Equador. A convenção entrou em vigor em 1942 e foi aprovada pelo Brasil em 1948. Em pauta foram discutidas definições de parques nacionais, monumentos naturais e reservas de regiões virgens (reservas biológicas) (Carvalho, 1969CARVALHO, José Cândido de Melo. A conservação da natureza e recursos naturais no mundo e no Brasil. Rio de Janeiro: FBCN, Academia Brasileira de Ciências, 1969.; De Bont, Schleper, Schouwenburg, 2017; Pádua, 2012PÁDUA, José Augusto. Environmentalism in Brazil: a historical perspective. In: McNeill, John Robert; Mauldin, Erin Stewart (ed.). A companion to global environmental history. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. p.455-473., 2018PÁDUA, José Augusto. Civil society and environmentalism in Brazil: The twentieth century's great acceleration. In: Rajan, Ravi; Sedrez, Lise (ed.). The great convergence: environmental histories of Brics. New Delhi: Oxford University Press, 2018. p.113-134.).
Nos anos 1950 e 1960, o ideário político nacional-desenvolvimentista estava amplamente difundido no Brasil. O presidente Kubitschek divulgara o seu Plano de Metas, cujo foco na ocupação do Planalto Central atualizava os desígnios da “Marcha para o Oeste”, lançada por Vargas durante o Estado Novo com o intuito de promover a integração econômica e incentivar a povoação de vastas áreas no Centro-Oeste e no Norte brasileiros. O plano levou a fortes impactos sobre a natureza, pois estimulou o desenvolvimento econômico acelerado e a ocupação mais ampla do território (Fausto, 2013FAUSTO, Boris. A vida política. In: Feith, Roberto; Duarte, Daniela (ed.). Olhando para dentro (1930-1964), v.4. Rio de Janeiro: Fundación Mapfre; Objetiva, 2013. p.90-141.; Franco, Schittini, Braz, 2015; Risério, 2013RISÉRIO, Antonio. A cidade no Brasil. São Paulo: Editora 34, 2013.).
Na mesma década de 1950 surgiram organizações voltadas para a proteção da natureza. No final de 1953, o agrônomo Augusto Ruschi, preocupado com a devastação da Mata Atlântica no Espírito Santo e com as propostas de reflorestamento com eucaliptos, articulou a criação da Sociedade Brasileira de Proteção à Natureza (SBPN). Ruschi aderira às ideias conservacionistas das gerações anteriores de intelectuais e as disseminou com as suas publicações nos boletins do MBML. Ele pode ser considerado um comunicador pioneiro de temas que gerariam intensos debates no Brasil e no mundo, principalmente após a Conferência de Estocolmo, em 1972 (Franco, Drummond, 2009a, 2009b, 2013; Gonçalves, 2021GONÇALVES, Alyne dos Santos. A militância ambiental de Augusto Ruschi: práticas científicas e estratégias políticas para a conservação da natureza no Brasil (1937-1986). Santa Teresa: INMA, Comunicação Impressa, 2021.; Maia, Franco, 2021FRANCO, José Luiz. A Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN): história das áreas protegidas e das espécies ameaçadas de extinção no Brasil. In: Dichdji, Ayelen; Pereira, Elenita Malta (org.). Protección de la naturaleza: narrativas y discursos, v.1. Buenos Aires: Teseo, 2021. p.169-205.; Urban, 2001URBAN, Teresa. Missão (quase) impossível: aventuras e desventuras do movimento ambientalista no Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2001., 2011URBAN, Teresa. Saudade do Matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil. Curitiba: Editora UFPR, 2011.).
Uma importante entidade atuante em São Paulo foi a Associação de Defesa da Flora e da Fauna, que apoiava o estabelecimento de uma reserva florestal pública no Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do estado. A associação foi criada em 1956, por José Carlos Reis de Magalhães (1921-2002), Lauro Pereira Travassos Filho (1918-1989) e Paulo Nogueira Neto (1922-2019), este último, membro da FBCN a partir de 1966. Posteriormente, o nome da associação mudou para Associação de Defesa do Meio Ambiente de São Paulo. Essa alteração se explica porque, inicialmente, a associação tinha uma concepção limitada de conservação, e os seus integrantes compreenderam que o controle de poluição e da qualidade da água e do ar também fazia parte das soluções de questões ambientais (Urban, 2001URBAN, Teresa. Missão (quase) impossível: aventuras e desventuras do movimento ambientalista no Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2001., 2011URBAN, Teresa. Saudade do Matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil. Curitiba: Editora UFPR, 2011.).
O movimento ambientalista criou sociedades também no sul do Brasil e alcançou grande projeção nacional e mesmo internacional. O padre jesuíta Balduíno Rambo (1906-1961) estudou os parques nacionais brasileiros, denunciou o desmatamento para obtenção de lenha para combustível e criticou a monocultura do arroz nas matas ribeirinhas da bacia hidrográfica dos rios Taquari-Antas e Caí (RS). Rambo sugeriu a criação de um parque florestal no alto rio Uruguai (RS) e nos Aparados da Serra (RS). Porém, foi Henrique Luís Roessler (1896-1963), do Rio Grande do Sul, quem conseguiu articular o movimento na região. Roessler dedicou-se ao movimento ambientalista no Rio Grande do Sul por meio da criação da União de Proteção à Natureza, em 1955. Além disso, Roessler publicava crônicas sobre conservação da natureza no jornal Correio do Povo (Prado, 2011PRADO, Daniel Porciuncula. A figueira e o machado: uma história das raízes do ambientalismo no Sul do Brasil e a crítica ambiental de Henrique Roessler. Rio Grande: Furg, 2011.; Pereira, 2013PEREIRA, Elenita Malta. Roessler: O homem que amava a natureza. São Leopoldo: Oikos, 2013.; Gritti, 2017GRITTI, Isabel Rosa. Os pinhais da fazenda Quatro Irmãos/RS e a Jewish Colonization Association. In: Gerhardt, Marcos; Nodari, Eunice; Moretto, Samira (ed.). História ambiental e migrações: diálogos. São Leopoldo: Oikos; Editora Uffs, 2017. p.95-108.; Laroque, 2017LAROQUE, Luís Fernando. Movimentações e relações com a natureza dos Kaingang em territórios da bacia hidrográfica Taquari-Antas e Caí, Rio Grande do Sul. In: Gerhardt, Marcos; Nodari, Eunice; Moretto, Samira (ed.). História ambiental e migrações: diálogos. São Leopoldo: Oikos; Editora Uffs, 2017. p.157-175.; Urban, 2001URBAN, Teresa. Missão (quase) impossível: aventuras e desventuras do movimento ambientalista no Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2001., 2011URBAN, Teresa. Saudade do Matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil. Curitiba: Editora UFPR, 2011.).
Até o final da década de 1950, o movimento ambientalista brasileiro contava com atuações e lideranças regionais. Algumas dessas lideranças se encontraram posteriormente nas ações de conservação da natureza da FBCN, como Lutzenberger e Nogueira Neto, agregando conhecimentos e experiências anteriores a ações em escala nacional e internacional. Além de estarem a par de conferências nacionais e internacionais para o intercâmbio de informações sobre conservação da natureza e recursos naturais – como Harold Edgard Strang, que participou da VI Assembleia da UICN em Atenas, em 1958, ou o futuro presidente da FBCN, José Cândido de Melo Carvalho (1914-1994), que escreveu sobre a conservação da natureza no mundo e no Brasil em 1969, já relatando sobre diversas conferências e a União Pan-americana –, alguns defensores da natureza já vinham de formação e experiências profissionais internacionais. Carvalho e Lutzenberger, por exemplo, tiveram uma formação internacional, com o primeiro tendo feito mestrado e doutorado nos EUA ao longo dos anos 1940 e Lutzenberger com passagens pela Alemanha, Venezuela e Marrocos, enquanto trabalhava na Basf, empresa química de adubos e agrotóxicos (Carvalho, 1969CARVALHO, José Cândido de Melo. A conservação da natureza e recursos naturais no mundo e no Brasil. Rio de Janeiro: FBCN, Academia Brasileira de Ciências, 1969.; Silva, 2017SILVA, Filipe Oliveira da. O Conselho Florestal Federal: um parecer de sua configuração institucional (1934-1967). Halac - Historia Ambiental, Latinoamericana y Caribeña, v.7, n.2, p.101-129, 2017. Disponível em: http://halacsolcha.org/index.php/halac. Acesso em: 30 out. 2021.
http://halacsolcha.org/index.php/halac...
; Urban, 2011URBAN, Teresa. Saudade do Matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil. Curitiba: Editora UFPR, 2011., 2001URBAN, Teresa. Missão (quase) impossível: aventuras e desventuras do movimento ambientalista no Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2001.). O cenário brasileiro de ações ambientais foi enriquecido pela troca de conhecimento entre cientistas e pelo fortalecimento de instituições, sociedades e associações de proteção e conservação da natureza, criando ambiente propício para a emergência da FBCN em 1958.
A criação da FBCN e suas ações iniciais
Analisemos agora a fundação da FBCN. Definimos seus principais idealizadores e integrantes, onde ela se localizou, quais os principais objetivos e como e quanto tempo levou seu processo de criação e organização. Mapeamos os quadros da FBCN e como eles se distribuíram. Examinamos a influência internacional que ajudou a moldar a FBCN, visto que ela se filiou à UICN. Por fim, destacamos algumas das primeiras ações da FBCN e como a presença de indivíduos com influência social e política viabilizaram essas ações.
Os idealizadores da FBCN estavam preocupados com a degradação ambiental que ocorria no país e com a falta de ação do governo, de cidadãos “mais esclarecidos” e, em certa medida, da sociedade. Apesar de não ser pioneira na preocupação com a conservação da natureza, os participantes da FBCN confiavam que ela teria grande sucesso. A essa altura, parte de seus membros tinha experiência com organizações e políticas ambientais. A criação dela, com sede no Rio de Janeiro, ainda capital nacional, apesar de ter seu estatuto legalmente efetivado apenas em 1960, vinha sendo noticiada no Correio da Manhã desde 1958. Nesse ano ocorreu a primeira reunião de seus fundadores, entre os quais estavam o cantor e jornalista Rossini Pinto (1937-1985) e o biólogo e jornalista Fuad Atala (1933-2019). Pinto escrevia regularmente no jornal a seção “Parques e Jardins”; Atala contribuía na seção “Um pouco de Ciência” (Atala, 22 jun. 1958, 1 mar. 1959; Franco, Drummond, 2019; Fundação..., 15 jan. 1960; Registro..., 1959; Pinto, 13 jun. 1958, 13 jul. 1958, 31 ago. 1958).
Esse não foi o primeiro momento em que a imprensa divulgou temas relacionados ao meio ambiente no Brasil: Armando Magalhães Corrêa garantia a divulgação dos assuntos da Sociedade dos Amigos das Árvores no Correio da Manhã, e Henrique Luís Roessler publicava regularmente crônicas sobre conservação da natureza no Correio do Povo. Os integrantes da FBCN garantiram a divulgação de suas ideias e iniciativas pelo Correio da Manhã. De acordo com Nogueira Neto, “[n]ossa voz era muito ampliada pelos jornais”. Ter o meio jornalístico como aliado foi eficaz para a divulgação das estratégias de conservação da natureza da FBCN e demais instituições (Franco, Drummond, 2009a; Urban, 2001URBAN, Teresa. Missão (quase) impossível: aventuras e desventuras do movimento ambientalista no Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2001., 2011URBAN, Teresa. Saudade do Matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil. Curitiba: Editora UFPR, 2011., p.305).
De acordo com o Correio da Manhã, a primeira reunião da futura fundação ocorreu no dia 29 de maio de 1958, na residência do engenheiro agrônomo Harold Edgard Strang, com a presença de Wanderbilt Duarte de Barros (1916-1997), Francisco Carlos Iglésias de Lima, Victor Abdennur Farah, Eurico de Oliveira Santos (1883-1968), Rosalvo de Magalhães (1930-2005), Rossini Pinto e Fuad Atala. O Correio da Manhã reiterou, e, posteriormente, a própria FBCN fez o mesmo no seu primeiro boletim, que havia uma variedade de filiados “... técnicos florestais, naturalistas, universitários, excursionistas e jornalistas, podendo inscrever-se todas as pessoas interessadas, independente de credo político, religioso ou discriminação racial” (Pinto, 13 jun. 1958, p.10), com o objetivo de “preservar a fauna, flora e os aspectos paisagísticos do nosso país” (Sociedade..., 1958, p.6). Em sua essência, a FBCN reunia todos aqueles preocupados com a natureza e não tinha vínculo político ou partidário, apesar da influência política exercida por alguns de seus membros.
A organização do estatuto da FBCN ocorreu rapidamente. Seus integrantes, cientes do interesse e da participação ativa de Augusto Ruschi na conservação da natureza, o informaram sobre a proposta. Ruschi já tinha estruturado e fundado, em 1954, a SBPN. Ele se colocou à disposição para fornecer à FBCN toda a documentação “abrangendo anteprojeto de estatutos, de sua autoria, bem como as adesões de personalidades e entidades interessadas na iniciativa” (Atala, 22 jun. 1958, p.1). Dessa maneira, a SBPN se extinguiu para dar lugar à FBCN.
A contribuição de Ruschi agilizou o processo de criação da FBCN. Cerca de dois meses após a primeira reunião para criar a fundação, estava pronto o seu anteprojeto de estatuto, discutido em agosto de 1958, em nova reunião na casa do engenheiro agrônomo Arthur de Miranda Bastos (1900-1968), para submissão à Promotoria Pública do Distrito Federal1 1 O Distrito Federal correspondia ao atual município do Rio de Janeiro. (Pinto, 13 jun. 1958, 13 jul. 1958). Os membros da FBCN aprovaram o estatuto em 5 de setembro de 1958, faltando apenas o registro em cartório. Aderiram pessoas físicas e jurídicas, como Esso, a Fundação Brasil-Central, o senador Jerônimo Coimbra Bueno, o poeta Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), entre outros (Atala, 10 set. 1958, p.10). De acordo com Franco e Drummond (2009b), até 1989 a FBCN chegou a ter quatro mil afiliados, mas a maioria não era militante ou assídua às assembleias. Porém, a fundação reuniu figuras importantes em sua composição e se uniu a outras instituições e associações ambientais para ampliar sua atuação.
Em 31 de outubro de 1958, os membros da FBCN elegeram, por unanimidade, o odontólogo e industrial Luiz Hermanny Filho (1882-1977) como presidente provisório da FBCN. Além de Hermanny Filho, compunham a diretoria provisória Victor Abdennur Farah, Fuad Atala e Rosalvo de Magalhães, respectivamente como diretor executivo, secretário e tesoureiro (Atala, 2 nov. 1958). Apesar de ainda não estar formalmente constituída, os membros da fundação participavam de eventos e ações em nome da organização. Farah, que naquele momento presidia o CFF, valeu-se do seu cargo para fazer uma ponte entre os objetivos da FBCN e sua influência política, mais especificamente, sua proximidade com o presidente da República, Jânio Quadros (Atala, 1 mar. 1959).
Em 1958, a FBCN se filiou à UICN. Foi Harold Edgard Strang quem articulou essa filiação bem precoce, quando foi a Atenas participar da sexta Assembleia da UICN, em setembro de 1958. A assembleia propôs compor uma lista de parques nacionais e reservas em todo o mundo. Além disso, a UICN propôs um programa de revisão curricular das escolas primárias, para incluir o ensino de princípios elementares do conservacionismo. Strang foi o encarregado de colocar por escrito as bases dos princípios conservacionistas, atuando na Comissão de Educação e Conservação da FBCN (Atala, 19 out. 1958; FBCN, 1966FBCN, Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. Boletim informativo. Rio de Janeiro: Serviço de publicações do IBBD, 1966.; Sugerida..., 9 out. 1958).
Em novembro de 1958, em conjunto com a União Brasileira de Excursionismo (UBE), a Associação dos Rádio-ginastas, clubes excursionistas e grupos de escoteiros do Distrito Federal, a FBCN apoiou uma medida que liberava recursos governamentais para indenizar a proprietária da Fazenda Garrafão, localizada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ), com o objetivo de manter as suas terras sob domínio do parque. As pressões surtiram efeito. Em 12 de dezembro de 1958, a Fazenda Garrafão, que vinha sendo explorada de maneira predatória, repassou grande parte de sua área definitivamente para a jurisdição do parque (ICMBio, 2008; Parque..., 27 nov. 1958).
Em março de 1959, integrantes da FBCN participaram de um programa da rádio Roquette Pinto intitulado “Mais perto do céu”. Ele era apresentado pela UBE para discutir diversos assuntos relacionados com o problema do conservacionismo no Brasil. Além disso, o programa tratou da relação entre conservacionistas e excursionistas (Natureza..., 1 mar. 1959; Amigos..., 6 mar. 1959). Boa parte dos excursionistas era composta por membros bem instruídos de classe média, praticantes de montanhismo, escotismo, exploração de cavernas, observação de pássaros e cultivo de orquídeas. Eles tinham consciência das consequências danosas do desenvolvimentismo para a natureza, e isso os fez apoiar a fundação. Com representantes inseridos na esfera pública e em articulação com a sociedade civil, a FBCN tinha capacidade de fazer pressão social sobre os governos (Dean, 1996DEAN, Warren. A ferro e fogo: história e devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.; Lopes, Franco, 2020).
Quanto ao modo de atuação, os membros da FBCN deixaram claro que não adotavam uma visão que consideravam “romântica” da natureza “... como entidade intocável, povoada de temas de poetas visionários e líricos amantes de suas belezas. Não! Nosso escopo é uma política realista, de sábio uso da Natureza, com a exploração racional de seus recursos” (Conservacionistas..., 1 jul. 1959, p.2). Isso demonstra o caráter misto da FBCN, pois ela era voltada tanto para a preservação mais estrita de determinadas áreas como para o uso racional e a conservação dos recursos naturais. Dessa maneira, ser uma fundação de conservação da natureza não queria dizer que ela tivesse um caráter exclusivamente conservacionista, quando se considera o conservacionismo uma perspectiva mais instrumental de uso dos recursos naturais. Vale dizer que, como já mencionado, em boa medida a FBCN se insere numa tradição influenciada por autores como Henry David Thoreau, John Muir e Aldo Leopold, tradição que atribuía um valor intrínseco ao mundo natural, traço do pensamento romântico (Franco, Drummond, 2009a; Franco, Schittini, Braz, 2015; Nash, 2001NASH, Roderick. Wilderness and the American mind. New Haven: Yale University Press, 2001., originalmente publicado em 1967; Pádua, 2012PÁDUA, José Augusto. Environmentalism in Brazil: a historical perspective. In: McNeill, John Robert; Mauldin, Erin Stewart (ed.). A companion to global environmental history. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. p.455-473.; Worster, 2016WORSTER, Donald. Shrinking the Earth: the rise and decline of American abundance. London: Oxford University Press, 2016.).
Por fim, em junho de 1959 os fundadores registraram o Estatuto da FBCN2 2 A FBCN foi considerada de utilidade pública pela lei n.601, de 30 de outubro de 1964, conforme o Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara, de 10 de novembro de 1964. Ela foi registrada no Livro A n.5 do Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Cartório do Sexto Ofício de Notas do Estado da Guanabara (FBCN, 1966). no Cartório de Ofício de Notas. O botânico Fernando Segadas Vianna (1928-2010) foi o tabelião. Os 14 membros da fundação eram os seguintes: Augusto Ruschi (substituído por Álvaro Silveira Filho quando do registro, pois Ruschi não pôde comparecer ao cartório), Luiz Hermanny Filho, Victor Abdennur Farah, Jerônimo Coimbra Bueno, Heitor Grillo (1902-1971), Luis Simões Lopes (1903-1994), Harold Edgard Strang, Fernando Segadas Vianna, Wanderbilt Duarte de Barros, Eurico de Oliveira Santos, Francisco Carlos Iglésias de Lima, David de Azambuja (1917-2007), Rossini Pinto e Fuad Atala. Em janeiro de 1960, o cartório aprovou o estatuto e legalizou a situação da fundação (Atala, 1 mar. 1959, 5 jul. 1959; Fundação..., 15 jan. 1960; Registro..., 28 jun. 1959).
Os membros da FBCN escolheram como seu símbolo um representante do “folclore indígena brasileiro”,3 3 A FBCN utilizou a palavra “folclore” brasileiro, algumas vezes empregada até os dias atuais para se referir a mitos ou lendas. Optamos por manter a palavra utilizada; entretanto, é importante destacar que há diferentes compreensões sobre o que são mitos, mitologias, lendas e até mesmo contos. Sales (2014) aponta que mitos e mitologias se relacionam a criações (da Terra, dos humanos, do fogo etc.) ou ritos de passagem, enquanto as lendas se referem a seres encantados, geralmente conectados à natureza, e elas podem sofrer variações em sua narrativa conforme o local em que ocorrem. Os contos também se relacionam a esses seres encantados, porém, podem ultrapassar barreiras geográficas e até mesmo linguísticas. O folclore costuma se mesclar com aquilo que se define como mito ou lenda. o curupira (Brasil, 9 abr. 1960). Conhecido também como currupira, corupira, caipora e caapora, esse personagem pode ser do sexo feminino ou masculino, pode apresentar cabelo de fogo, pele negra, pode ter apenas uma perna ou duas pernas, mas com os pés virados para trás, de maneira a enganar quem segue a sua trilha. Vive nas florestas e protege a fauna e a flora, batendo com seu machado nas árvores e assustando caçadores. Algumas vezes as narrativas sobre o curupira se mesclam com outras, como o saci-pererê e o negrinho do pastoreio (Anchieta, 1997ANCHIETA, Pe. José de. Carta de São Vicente. In: Costa, José Pedro de Oliveira (ed.). Caderno n. 7 - Série Documentos Históricos. São Paulo: Instituto Florestal do Estado de São Paulo, 1997., publicado originalmente em 1560; Cascudo, 2012CASCUDO, Luís da Câmara. Geografia dos mitos brasileiros. São Paulo: Global Editora e Distribuidora Ltda., 2012., publicado originalmente em 1947; Munduruku, 2010MUNDURUKU, Daniel. Contos indígenas brasileiros. São Paulo: Global Editora e Distribuidora Ltda., 2010.).
O curupira, na visão da FBCN, representava a maneira como poderia/deveria ser a atitude dos humanos perante a natureza:
A Fundação Brasileira para Conservação da Natureza, adotando-o como seu símbolo, espera que esse mito ressurja entre nós, não como crendice pura e simples, mas pelo espírito filosófico correto que ele representa, de vida harmônica entre o homem e a natureza. Que ele nos estimule por todas as formas, sobretudo pelo trabalho e pela inteligência, a promovermos a conservação e renovação dos recursos naturais do Brasil para as futuras gerações (Brasil, 1960).
Ainda segundo o Estatuto da FBCN, a fundação tinha prazo indeterminado de duração, e os seus principais objetivos tinham em vista:
(a) Estabelecer parques e monumentos naturais, bem como refúgios e reservas de flora e fauna nativos, dando-se especial atenção às espécies ameaçadas de extinção; (b) Estimular e promover a cooperação entre os governos e as organizações nacionais e internacionais interessadas na conservação dos recursos naturais; (c) Realizar e promover a realização [sic] de pesquisas referentes à conservação da natureza; (d) Difundir conhecimentos conservacionistas através de cursos, concursos, publicações, palestras e conferências; e (e) Planejar e executar trabalhos que se destinem aos fins em causa (Brasil, 1960BRASIL. Estatuto da FBCN. Diário do Congresso Nacional, v.15, n.49, sessão 2, 9 abr. 1960.).
De acordo com o estatuto, os membros da FBCN se dividiam entre fundadores, instituidores, doadores, benfeitores, patrocinadores, colaboradores e beneméritos. A fundação tinha os seguintes órgãos: Assembleia Geral, Presidência, Conselho Superior, Diretoria Executiva, Secretaria Geral e Tesouraria (Atala, 22 maio 1960; Brasil, 9 abr. 1960; Utilidade..., 12 maio 1960). A eleição da diretoria definitiva da fundação para o seu segundo triênio, marcada para março de 1959, ocorreu apenas em 5 de abril de 1960, durante a sua primeira assembleia geral ordinária para escolha do presidente e do Conselho Superior. Por unanimidade os membros da FBCN elegeram como o seu presidente para o triênio de 1960-1963 Jerônimo Coimbra Bueno (senador eleito pela União Democrática Nacional (UDN), pelo estado de Goiás. O Conselho Superior tinha oito integrantes: Luís Simões Lopes, Heitor Grillo, Wanderbilt Duarte de Barros, David de Azambuja, Harold Edgard Strang, Francisco Carlos Iglésias de Lima, Fernando Segadas Vianna e Eurico de Oliveira Santos. Os fundadores aclamaram Hermanny Filho como presidente honorário, devido à sua atuação anterior em prol da entidade (Amigos..., 7 abr. 1960; Assembleia..., 3 abr. 1960; Atala, 27 mar. 1960, 3 abr. 1960).
Coimbra Bueno desempenhou papel de grande relevância para a FBCN devido a sua preocupação com a causa ambiental e a sua capacidade de influir politicamente. Essas duas características dele e de outros integrantes da fundação, como Farah, abriram espaço para que as primeiras propostas da FBCN de criação de áreas protegidas se efetivassem antes mesmo de sua atuação mais intensa, o que só ocorreu a partir de 1966. De sua criação até 1966, a FBCN foi firmando a sua constituição e atuação por meio de pequenas ações pontuais devidas principalmente aos esforços e à influência social e política de alguns de seus membros.
A atuação de Jerônimo Coimbra Bueno e Victor Abdennur Farah na criação de parques nacionais e do Código Florestal de 1965
Coimbra Bueno e Farah foram os dois principais responsáveis pelas primeiras conquistas da FBCN relacionadas com a criação de áreas protegidas. Por causa da proximidade que tinham com os presidentes da época, o primeiro com Kubitschek e o segundo com Jânio Quadros, eles concretizaram a criação de 11 parques nacionais. Além disso, Farah contribuiu para a elaboração e edição do Código Florestal de 1965, lei n.4.771, de 15 de setembro, que permitiu realizar um dos principais objetivos da FBCN: o estabelecimento de um sistema nacional de proteção à natureza. Esta seção mostra como atuaram Coimbra Bueno e Farah, e discute o legado de suas contribuições para a sociedade e a FBCN.
Em 1959, Coimbra Bueno, ainda não eleito presidente da FBCN, conseguiu articular a criação do Parque Nacional do Araguaia (originalmente criado como Parque Nacional da Ilha do Bananal). Importante ressaltar que parte do aceite para a criação do parque ocorreu devido à associação de conservação com desenvolvimento e criação de áreas protegidas. Mesmo com a intenção de Coimbra Bueno de deixar a área do parque intacta, fornecendo infraestrutura apenas fora de seu perímetro, o presidente Kubitschek associou o processo de conservação com lucro a partir de atividades no interior do parque, como o turismo. Além da evidência da associação entre conservação, criação de parques nacionais e desenvolvimento econômico, a ideia de criação de áreas protegidas de maneira intocada retoma o aspecto de no Brasil não se diferenciar conservação de preservação. Retoma também uma influência do romantismo e do valor intrínseco da natureza, pois parques nacionais, à época, tinham a natureza como prioridade. Porém, quase uma década após sua criação, o parque se encontrava ocupado por um hotel de luxo, habitado por índios e destruído por fazendas de gado (De Bont, Schleper, Schouwenburg, 2017; Lopes, Franco, 2020; Ribeiro, 2020RIBEIRO, Luanna de Souza. História do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros: da sua criação à sua [re]ampliação em 2017. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável) - Universidade de Brasília, Brasília, 2020.; Wakild, 2020WAKILD, Emily. Araguaia e Ilha do Bananal: Um paradoxo da conservação e do uso compartilhado de recursos naturais no Brasil. In: Drummond, José Augusto et al. (org.). História ambiental: natureza, sociedade, fronteira, v3. Rio de Janeiro: Garamond, 2020.).
Natural de Rio Verde (GO), Coimbra Bueno ingressou em 1929 no curso de engenharia civil da Escola Politécnica do Rio de Janeiro e se formou em 1933, especializando-se em urbanismo. Ainda no início de carreira, ganhou força política ao assumir a direção das obras de construção da nova capital do estado de Goiás, Goiânia. Em 1947, assumiu o governo de Goiás. De visão progressista, ele se preocupou com a exploração desenfreada dos recursos naturais do estado. Coimbra Bueno propôs reformas legislativas voltadas para a proteção da fauna e das reservas florestais, a criação de uma polícia florestal e a instalação do Serviço de Caça e Pesca de Goiás. Além disso, defendeu a criação de diversos parques nacionais no estado, a começar por quatro locais: Canal de São Simão, Serra de Caldas Novas, Chapada dos Veadeiros e Ilha do Bananal. A sua relação de proximidade com o presidente Kubitschek facilitou a criação do último parque citado, em 1959, e de mais três parques: Ubajara (CE), Aparados da Serra (RS) e Emas (GO) (Lopes, Franco, 2020; Ribeiro, 2020RIBEIRO, Luanna de Souza. História do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros: da sua criação à sua [re]ampliação em 2017. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável) - Universidade de Brasília, Brasília, 2020.).
Coimbra Bueno conheceu Kubitschek em 1940, quando este ainda era prefeito de Belo Horizonte. Kubitschek queria reurbanizar a capital mineira, mas o engenheiro desaconselhou, sugerindo intervenções urbanas pontuais, como a Praça da Pampulha, que ajudaram Kubitschek a alavancar a sua candidatura à Presidência da República. Ele foi também o principal articulador do apoio da UDN ao projeto de construção de Brasília. Dessa maneira, como já o conhecia e confiava em seu trabalho, o presidente apenas assinou os documentos que Coimbra Bueno preparara para a criação dos parques nacionais sugeridos (Lopes, Franco, 2020).
A indicação de Coimbra Bueno para a presidência da FBCN levou em consideração sua vivência com os “problemas da terra e do conservacionismo ... Muitas iniciativas no campo da Conservação da Natureza nasceram de projetos originais ou ideias do novo presidente da FBCN, destacando-se a criação recente do Parque Nacional da Ilha do Bananal” (Atala, 10 abr. 1960, p.7). Em 9 de abril de 1960, o Diário do Congresso Nacional publicou a Declaração de Princípios da FBCN e o seu estatuto. Coimbra Bueno, em sessão noturna do Congresso no dia anterior, assim se pronunciou quando fez a sua leitura:
Acredito que, em decorrência da transferência da Capital para o Planalto Central, nossos imensos recursos naturais estão correndo riscos de mutilações irremediáveis, tal como aconteceu com o litoral, quase todo erodido, e com várias espécies da fauna e flora, ameaçados [sic] de extinção total. Assim sendo, a ‘Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza’ surge num momento feliz, como um eco de todas as preocupações da própria Imprensa falada, escrita e televisionada – que não tem poupado esforços para chamar a atenção de nossas autoridades e do público em geral, para a formação de uma indispensável mentalidade conservacionista, no seio do nosso povo (Senador..., 10 abr. 1960, p.9).
A declaração revelou outras motivações para a criação da FBCN. Ela reconhecia a ausência de políticas de conservação da natureza no país e uma certa apatia da população em relação à destruição ambiental, aliada a um apoio otimista ao progresso e ao crescimento econômico (Brasil, 9 abr. 1960). A mudança do presidente da FBCN Coimbra Bueno para Brasília, para exercer o mandato como senador, deixou em suspenso os trabalhos da fundação.
Os membros da FBCN voltaram a se reunir em 1962 na casa de Hermanny Filho para tratar de normas para dinamizar a atuação da FBCN (Vai reunir-se..., 17 jun. 1962). Nova reunião ocorreu em 1963 na sede da Sociedade Nacional de Agricultura, entidade pública criada em 1897, voltada para o desenvolvimento da agricultura no Brasil. A reunião aprovou novos membros e a convocação da assembleia geral para a escolha de nova diretoria (Será revista..., 31 mar. 1963). Coimbra Bueno acabou reconduzido à presidência da FBCN, apesar de ele lamentar que a sua participação seria pouco efetiva devido às suas atividades parlamentares. No entanto, ele destacou que “no decorrer de suas funções legislativas conseguiu não só obter recursos para a instituição, como desenvolver atuação no campo das leis de defesa do patrimônio natural, citando a propósito inúmeras vitórias”, provavelmente se referindo ao fato de ter convencido Kubitschek a criar parques nacionais (Reconduzido..., 6 abr. 1963, p.10).
Outro conservacionista que usou a sua influência política e social para que a FBCN lograsse resultados foi o engenheiro agrônomo Victor Abdennur Farah, diretor-executivo da fundação entre 1958 e 1963 e presidente do CFF de 1956 a 1967. O CFF teve papel importante durante o governo do presidente Jânio Quadros (1917-1992), que tinha sensibilidade para as questões ambientais e acatava as sugestões de Farah (Lopes, Franco, 2020; Silva, 2017SILVA, Filipe Oliveira da. O Conselho Florestal Federal: um parecer de sua configuração institucional (1934-1967). Halac - Historia Ambiental, Latinoamericana y Caribeña, v.7, n.2, p.101-129, 2017. Disponível em: http://halacsolcha.org/index.php/halac. Acesso em: 30 out. 2021.
http://halacsolcha.org/index.php/halac...
; Urban, 2011URBAN, Teresa. Saudade do Matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil. Curitiba: Editora UFPR, 2011.). Em entrevista, Nogueira Neto declarou que
o Farah era recebido diretamente pelo Jânio Quadros. Na hora em que ele entrava, o Presidente da República se levantava e dizia: ‘Sr. Presidente queira ter a bondade!’ Porque o outro era presidente também do Conselho. E o fato é que a maioria imensa de áreas reservadas existentes até 1961 no Brasil foi criada por Jânio Quadros. Houve influência decisiva do Conselho Florestal Federal e do Farah (Urban, 2011URBAN, Teresa. Saudade do Matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil. Curitiba: Editora UFPR, 2011., p.224).
Quadros aprovou a criação de seis parques nacionais em seu curto governo: Caparaó (MG), Brasília (DF), Monte Pascoal (BA), São Joaquim (SC), Sete Cidades (PI) e Tijuca (RJ). Farah participou também da proposta de elaboração do Código Florestal de 1965, juntamente com o agrônomo Alceo Magnanini (1925-2022) e o jurista Osny Duarte Pereira (1912-2000). Pereira estudou a história do direito florestal brasileiro, da legislação ambiental e do Código Florestal de 1934 e introduziu no direito florestal brasileiro o princípio de que o interesse coletivo limita a exploração da propriedade privada – com base no conceito de propriedade contido na Constituição de 1946. Isso se refletiu no Código Florestal de 1965 (Franco, 2021FRANCO, José Luiz. A Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN): história das áreas protegidas e das espécies ameaçadas de extinção no Brasil. In: Dichdji, Ayelen; Pereira, Elenita Malta (org.). Protección de la naturaleza: narrativas y discursos, v.1. Buenos Aires: Teseo, 2021. p.169-205.; Gonçalves, 2021GONÇALVES, Alyne dos Santos. A militância ambiental de Augusto Ruschi: práticas científicas e estratégias políticas para a conservação da natureza no Brasil (1937-1986). Santa Teresa: INMA, Comunicação Impressa, 2021.; Lopes, Franco, 2020; Urban, 2011URBAN, Teresa. Saudade do Matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil. Curitiba: Editora UFPR, 2011.).
Além da atuação de Farah, outro fator que contribuiu para o desenvolvimento do Código Florestal de 1965 foi o intercâmbio com instituições internacionais, que ampliou o conhecimento científico, cada vez mais aprofundado no viés ecológico, de técnicos que compunham os quadros do governo. O Código Florestal de 1965 definiu as bases para um sistema nacional de proteção à natureza, implantada de forma concreta apenas em 2000, com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc), lei n.9.985, de 18 de julho. Assim, a atuação da FBCN ajudou a longo prazo a criação do Snuc.
As ações de Coimbra Bueno e Farah caracterizam o modo de atuação da FBCN, nesse seu primeiro momento de implementação e, de modo geral, ao longo do tempo: cooperação com o governo, e não confronto. Em conjunto com instituições e legislações, esses conservacionistas ilustram como o cenário para a criação da FBCN foi se formando e fortalecendo desde várias décadas antes. Além da influência política, os membros da FBCN também se utilizavam de argumentos técnico-científicos para convencer o governo militar a criar áreas protegidas. Isso possibilitou que a fundação obtivesse sucesso em políticas de conservação da natureza mesmo ao longo do período ditatorial, de 1964 a 1985. A FBCN se tornou mais efetiva a partir de 1966, com a formação de comissões ao estilo da UICN e com o início da publicação dos seus boletins informativos anuais, que intensificaram a divulgação de informações sobre conservação da natureza e facilitaram a convergência e a reunião de pessoas interessadas no tema.
Considerações finais
A FBCN não foi a primeira ONG ambiental criada no Brasil. Entretanto, foi aquela cuja atuação teve o maior alcance, tanto no território nacional quanto em contato com ONGs, instituições e intelectuais conservacionistas estrangeiros. Apesar de criada em 1958, seu auge ocorreu entre 1966 e 1989, período em que publicou seus boletins anuais e se engajou em numerosos projetos de conservação ambiental de âmbito nacional. Mesmo assim, antes disso a FBCN se engajou em ações pontuais de conservação da natureza.
Um dos motivos de sucesso das propostas conservacionistas da FBCN foi a influência de seus fundadores e membros, muitas vezes integrados à administração pública nacional e detentores de prestígio na esfera política ou mesmo na mídia. Os jornalistas Rossini Pinto e Fuad Atala foram grandes responsáveis pela divulgação da FBCN, cujos feitos eles divulgavam em suas colunas no jornal Correio da Manhã. Dois exemplos claros de prestígio e influência política foram Jerônimo Coimbra Bueno e Victor Abdennur Farah. Ambos detiveram cargos públicos e contaram com a confiança dos presidentes Kubitschek e Quadros, logrando sucesso em suas propostas de criação de parques nacionais durante um período de discursos e ações desenvolvimentistas, tanto no âmbito nacional quanto internacional, visto se tratar do período da grande aceleração produtiva.
Assim, embora a FBCN não tenha desenvolvido uma atuação intensa durante a sua primeira fase (1958-1966), os seus quadros conseguiram exercer influência considerável sobre importantes esferas dentro do Estado, prática comum a muitos de seus membros ao longo de sua existência. Aliada ao desenvolvimento do conhecimento científico e às propostas legislativas (no caso específico deste estudo, o Código Florestal de 1965), essa estratégia de influência pessoal e política levou, a longo prazo e a partir de demais instrumentos e políticas ambientais, a um dos principais objetivos da fundação: a criação de um sistema de áreas protegidas, concretizada em 2000 pela Lei do Snuc, vigente até os dias atuais e objeto constante de debates sobre a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável.
Paulo Nogueira Neto, membro da FBCN, integrou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que elaborou, em 1987, o Relatório Brundtland. Esse documento foi o primeiro a propor o conceito de desenvolvimento sustentável e discutiu a relação entre humanos e meio ambiente, incluindo a questão da perda de biodiversidade. A atenção dada à conservação de espécies ameaçadas de extinção foi outro assunto que a FBCN focalizou e que, posteriormente, culminou justamente na preocupação com a conservação da biodiversidade, a qual implica a compreensão e o estabelecimento de ações para evitar extinções e perda de diversidade biológica em termos de espécies, genes e ecossistemas. É importante destacar que outros temas de interesse da FBCN foram poluição ambiental, crescimento populacional e urbanização.
Essas preocupações ambientais se reforçaram com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como Eco-92, sediada no Rio de Janeiro, em 1992. A FBCN participou da conferência, embora nesse momento já se encontrasse fragilizada financeiramente e dividisse o cenário com outras ONGs ambientalistas nacionais e internacionais. Em suma, a FBCN demonstrou desde o seu início preocupações tanto com o conceito de preservação mais estrita como com o conceito mais amplo de conservação, os quais foram se desenvolvendo no âmbito dos debates ambientais ao longo do tempo. Cabe destacar aqui a atribuição de boa parte dos membros da FBCN para a afirmação de um valor intrínseco da natureza, o que os ligava a uma tradição mais antiga do pensamento romântico e ao mesmo tempo à ciência da biologia da conservação, que se desenvolveu ao longo da década de 1980, e à ecologia profunda de Arne Næss. Esse aspecto não ficou tão evidente com a atuação de Coimbra Bueno e Farah, que atuaram politicamente em defesa da natureza. Com a presidência do ecólogo José Cândido de Melo Carvalho, a partir de 1966, as ações da FBCN voltadas para essa tradição romântica e para a biologia da conservação foram ficando mais claras, com as ações da fundação cada vez mais focalizadas em áreas protegidas e espécies raras ou ameaçadas de extinção.
Agradecimentos
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes, código de financiamento 001) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
REFERENCES
- AMIGOS da Natureza e os Lagartixas. Correio da Manhã, p.8, 6 mar. 1959.
- AMIGOS da Natureza têm presidente definitivo: senador Coimbra Bueno. Correio da Manhã, p. 2, 7 abr. 1960.
- ANCHIETA, Pe. José de. Carta de São Vicente. In: Costa, José Pedro de Oliveira (ed.). Caderno n. 7 - Série Documentos Históricos. São Paulo: Instituto Florestal do Estado de São Paulo, 1997.
- ASSEMBLEIA da Fundação Brasileira para Conservação da Natureza. Correio da Manhã, p.14, 3 abr. 1960.
- ATALA, Fuad. Utilidade pública para a FBCN. Correio da Manhã, p.2, 22 maio 1960.
- ATALA, Fuad. Senador Coimbra Bueno presidente da FBCN. Correio da Manhã, p.7, 10 abr. 1960.
- ATALA, Fuad. Assembleia da FBCN. Correio da Manhã, p.6, 3 abr. 1960.
- ATALA, Fuad. Senador Coimbra Bueno na FBCN. Correio da Manhã, p.6, 27 mar. 1960.
- ATALA, Fuad. Uma grande vitória. Correio da Manhã, p.3, 5 jul. 1959.
- ATALA, Fuad. Notícias da FBCN. Correio da Manhã, p.3, 1 mar. 1959.
- ATALA, Fuad. Eleita a primeira diretoria (provisória) da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. Correio da Manhã, p.3, 2 nov. 1958.
- ATALA, Fuad. Concurso "Flagrantes da Natureza" no lançamento da FBCN. Correio da Manhã, p.3, 19 out. 1958.
- ATALA, Fuad. Natureza brasileira já tem sociedade de amigos. Correio da Manhã, p.10, 10 set. 1958.
- ATALA, Fuad. Será criada no Rio sociedade para conservação da natureza. Correio da Manhã, p.1, 22 jun. 1958.
- BORGES, Cristina Xavier. Por trás do verde: discurso e prática de uma ONG: o caso da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. Dissertação (Mestrado em Extensão Rural) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 1995.
- BRASIL. Estatuto da FBCN. Diário do Congresso Nacional, v.15, n.49, sessão 2, 9 abr. 1960.
- CARVALHO, José Cândido de Melo. A conservação da natureza e recursos naturais no mundo e no Brasil. Rio de Janeiro: FBCN, Academia Brasileira de Ciências, 1969.
- CASCUDO, Luís da Câmara. Geografia dos mitos brasileiros. São Paulo: Global Editora e Distribuidora Ltda., 2012.
- CONSERVACIONISTAS lançarão plano de ação para recuperação da natureza brasileira. Correio da Manhã, p.2, 1 jul. 1959.
- DEAN, Warren. A ferro e fogo: história e devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
- DE BONT, Raf; SCHLEPER, Simone; SCHOUWENBURG, Hans. Conservation conferences and expert networks in the short twentieth century. Environment and History, v.23, n.4, p.569-599, 2017.
- DIEGUES, Antonio Carlos. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: Editora Hucitec Nupaub, 2008.
- DUARTE, Regina Horta. A biologia militante: o Museu Nacional, especialização científica, divulgação do conhecimento e práticas políticas no Brasil, 1926-1945. Belo Horizonte: UFMG, 2010.
- FAUSTO, Boris. A vida política. In: Feith, Roberto; Duarte, Daniela (ed.). Olhando para dentro (1930-1964), v.4. Rio de Janeiro: Fundación Mapfre; Objetiva, 2013. p.90-141.
- FBCN, Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. Boletim informativo. Rio de Janeiro: Serviço de publicações do IBBD, 1966.
- FRANCO, José Luiz. A Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN): história das áreas protegidas e das espécies ameaçadas de extinção no Brasil. In: Dichdji, Ayelen; Pereira, Elenita Malta (org.). Protección de la naturaleza: narrativas y discursos, v.1. Buenos Aires: Teseo, 2021. p.169-205.
- FRANCO, José Luiz; DRUMMOND, José Augusto. Wildlife in Brazil: History, Threats, and Opportunities. Oxford Research Encyclopedia of Latin American History, 2019. Disponível em: https://oxfordre.com/latinamericanhistory/view/10.1093/acrefore/9780199366439.001.0001/acrefore-9780199366439-e-431 Acesso em: 8 nov. 2023.
» https://oxfordre.com/latinamericanhistory/view/10.1093/acrefore/9780199366439.001.0001/acrefore-9780199366439-e-431 - FRANCO, José Luiz; DRUMMOND, José Augusto. Nature protection: the FBCN and conservation initiatives in Brazil, 1958-1992. Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña, v.2, n.2, p.338-367, 2013.
- FRANCO, José Luiz; DRUMMOND, José Augusto. Da proteção à natureza à conservação da biodiversidade. In: Franco, José Luiz et al. (org.). História ambiental 1: fronteiras, recursos naturais e conservação da natureza. Rio de Janeiro: Garamond, 2012. p.333-366.
- FRANCO, José Luiz; DRUMMOND, José Augusto. Proteção à natureza e identidade nacional no Brasil: anos 1920-1940. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009a.
- FRANCO, José Luiz; DRUMMOND, José Augusto. O cuidado da natureza: a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza e a experiência conservacionista no Brasil: 1958-1992. Textos de História: Revista do Programa de Pós-graduação em História da UnB, v.17, n.1, p.59-84, 2009b.
- FRANCO, José Luiz; SCHITTINI, Gilberto Menezer; BRAZ, Vívian da Silva. História da conservação da natureza e das áreas protegidas: panorama geral. Historiæ, v.6, n.2, Dossiê Patrimônio Histórico e Ambiental, p.233-270, 2015.
- FUNDAÇÃO da natureza: estatutos aprovados pelo procurador-geral. Correio da Manhã, p.2, 15 jan. 1960.
- GONÇALVES, Alyne dos Santos. A militância ambiental de Augusto Ruschi: práticas científicas e estratégias políticas para a conservação da natureza no Brasil (1937-1986). Santa Teresa: INMA, Comunicação Impressa, 2021.
- GRITTI, Isabel Rosa. Os pinhais da fazenda Quatro Irmãos/RS e a Jewish Colonization Association. In: Gerhardt, Marcos; Nodari, Eunice; Moretto, Samira (ed.). História ambiental e migrações: diálogos. São Leopoldo: Oikos; Editora Uffs, 2017. p.95-108.
- HOCHSTETLER, Kathryn; KECK, Margaret E. Greening Brazil: environmental activism in state and society. Durham: Duke University Press, 2007.
- ICMBIO, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Plano de Manejo - Encarte 3, 2008. Disponível em: https://www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos/o-que-fazemos/gestao-e-manejo.html#planomanejo Acesso em: 30 out. 2021.
» https://www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos/o-que-fazemos/gestao-e-manejo.html#planomanejo - LAROQUE, Luís Fernando. Movimentações e relações com a natureza dos Kaingang em territórios da bacia hidrográfica Taquari-Antas e Caí, Rio Grande do Sul. In: Gerhardt, Marcos; Nodari, Eunice; Moretto, Samira (ed.). História ambiental e migrações: diálogos. São Leopoldo: Oikos; Editora Uffs, 2017. p.157-175.
- LOPES, Marcia Helena; FRANCO, José Luiz. O Parque Nacional do Araguaia: dilemas entre o desenvolvimento regional e a conservação da natureza. Revista de História Regional, v.25, n.2, p.357-382, 2020.
- MAIA, Juliana Capra; FRANCO, José Luiz. O homem, a mata e o beija-flor: Augusto Ruschi e a conservação da natureza no Brasil. Santa Teresa: INMA, Comunicação Impressa, 2021.
- MCCORMICK, John. Rumo ao paraíso: a história do movimento ambientalista. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1992.
- MCNEILL, John Robert; ENGELKE, Peter. The great acceleration: an environmental history of the Anthropocene since 1945. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2016.
- MEDEIROS, Rodrigo. Evolução das tipologias e categorias de áreas protegidas no Brasil. Ambiente & Sociedade, v.9, n.1, p.41-64, 2006.
- MUNDURUKU, Daniel. Contos indígenas brasileiros. São Paulo: Global Editora e Distribuidora Ltda., 2010.
- NASH, Roderick. Wilderness and the American mind. New Haven: Yale University Press, 2001.
- NATUREZA brasileira em debate amanhã na Rádio Roquette Pinto. Correio da Manhã, p.7, 1 mar. 1959.
- PÁDUA, José Augusto. Civil society and environmentalism in Brazil: The twentieth century's great acceleration. In: Rajan, Ravi; Sedrez, Lise (ed.). The great convergence: environmental histories of Brics. New Delhi: Oxford University Press, 2018. p.113-134.
- PÁDUA, José Augusto. Environmentalism in Brazil: a historical perspective. In: McNeill, John Robert; Mauldin, Erin Stewart (ed.). A companion to global environmental history West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. p.455-473.
- PARQUE da Serra dos Órgãos ainda poderá ser salvo. Correio da Manhã, p.2, 10, 27 nov. 1958.
- PEREIRA, Elenita Malta. Roessler: O homem que amava a natureza. São Leopoldo: Oikos, 2013.
- PINTO, Rossini. Natureza. Correio da Manhã, p.9, 31 ago. 1958.
- PINTO, Rossini. Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. Correio da Manhã, p.10, 13 jul. 1958.
- PINTO, Rossini. Conservação da natureza. Correio da Manhã, p.11, 13 jun. 1958.
- PRADO, Daniel Porciuncula. A figueira e o machado: uma história das raízes do ambientalismo no Sul do Brasil e a crítica ambiental de Henrique Roessler. Rio Grande: Furg, 2011.
- RECONDUZIDO Coimbra Bueno na FBCN. Correio da Manhã, p.10, 6 abr. 1963.
- REGISTRO do Estatuto da FBCN. Correio da Manhã, p.11, 28 jun. 1959.
- RIBEIRO, Luanna de Souza. História do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros: da sua criação à sua [re]ampliação em 2017. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável) - Universidade de Brasília, Brasília, 2020.
- RISÉRIO, Antonio. A cidade no Brasil. São Paulo: Editora 34, 2013.
- SALES, Maria da Luz. A presença das narrativas tradicionais no imaginário dos jovens em idade escolar. Dissertação (Mestrado em Ciências da Educação) - Universidade de Évora, Évora, 2014.
- SENA, Nathália. Conservação da natureza em interface com a atuação da UICN (1947-2016). Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável) - Universidade de Brasília, Brasília, 2018.
- SENADOR Coimbra Bueno lança ofensiva em favor da Conservação da Natureza. Correio da Manhã, p.9, 10 abr. 1960.
- SERÁ REVISTA Fundação da Natureza. Correio da Manhã, p.5, 31 mar. 1963.
- SILVA, Filipe Oliveira da. O Conselho Florestal Federal: um parecer de sua configuração institucional (1934-1967). Halac - Historia Ambiental, Latinoamericana y Caribeña, v.7, n.2, p.101-129, 2017. Disponível em: http://halacsolcha.org/index.php/halac Acesso em: 30 out. 2021.
» http://halacsolcha.org/index.php/halac - SOCIEDADE de Proteção à Natureza. Correio da Manhã, p.6, 29 ago. 1958.
- SUGERIDA à ONU lista de parques nacionais do mundo inteiro. Correio da Manhã, p.2, 9 out. 1958.
- URBAN, Teresa. Saudade do Matão: relembrando a história da conservação da natureza no Brasil. Curitiba: Editora UFPR, 2011.
- URBAN, Teresa. Missão (quase) impossível: aventuras e desventuras do movimento ambientalista no Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2001.
- UTILIDADE pública para a Fundação da Natureza. Correio da Manhã, p.2, 12 maio 1960.
- VAI REUNIR-SE a Fundação da Natureza. Correio da Manhã, p.6, 17 jun. 1962.
- WAKILD, Emily. Araguaia e Ilha do Bananal: Um paradoxo da conservação e do uso compartilhado de recursos naturais no Brasil. In: Drummond, José Augusto et al. (org.). História ambiental: natureza, sociedade, fronteira, v3. Rio de Janeiro: Garamond, 2020.
- WORSTER, Donald. Shrinking the Earth: the rise and decline of American abundance. London: Oxford University Press, 2016.
NOTAS
-
1
O Distrito Federal correspondia ao atual município do Rio de Janeiro.
-
2
A FBCN foi considerada de utilidade pública pela lei n.601, de 30 de outubro de 1964, conforme o Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara, de 10 de novembro de 1964. Ela foi registrada no Livro A n.5 do Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Cartório do Sexto Ofício de Notas do Estado da Guanabara (FBCN, 1966FBCN, Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. Boletim informativo. Rio de Janeiro: Serviço de publicações do IBBD, 1966.).
-
3
A FBCN utilizou a palavra “folclore” brasileiro, algumas vezes empregada até os dias atuais para se referir a mitos ou lendas. Optamos por manter a palavra utilizada; entretanto, é importante destacar que há diferentes compreensões sobre o que são mitos, mitologias, lendas e até mesmo contos. Sales (2014)SALES, Maria da Luz. A presença das narrativas tradicionais no imaginário dos jovens em idade escolar. Dissertação (Mestrado em Ciências da Educação) - Universidade de Évora, Évora, 2014. aponta que mitos e mitologias se relacionam a criações (da Terra, dos humanos, do fogo etc.) ou ritos de passagem, enquanto as lendas se referem a seres encantados, geralmente conectados à natureza, e elas podem sofrer variações em sua narrativa conforme o local em que ocorrem. Os contos também se relacionam a esses seres encantados, porém, podem ultrapassar barreiras geográficas e até mesmo linguísticas. O folclore costuma se mesclar com aquilo que se define como mito ou lenda.
-
PreprintNão houve preprint.
-
Dados da pesquisaNão estão em repositório.
-
Avaliação por paresAvaliação duplo-cega, fechada.
Disponibilidade de dados
Dados da pesquisa
Não estão em repositório.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
17 Maio 2024 -
Data do Fascículo
2024
Histórico
-
Recebido
15 Nov 2022 -
Aceito
20 Abr 2023